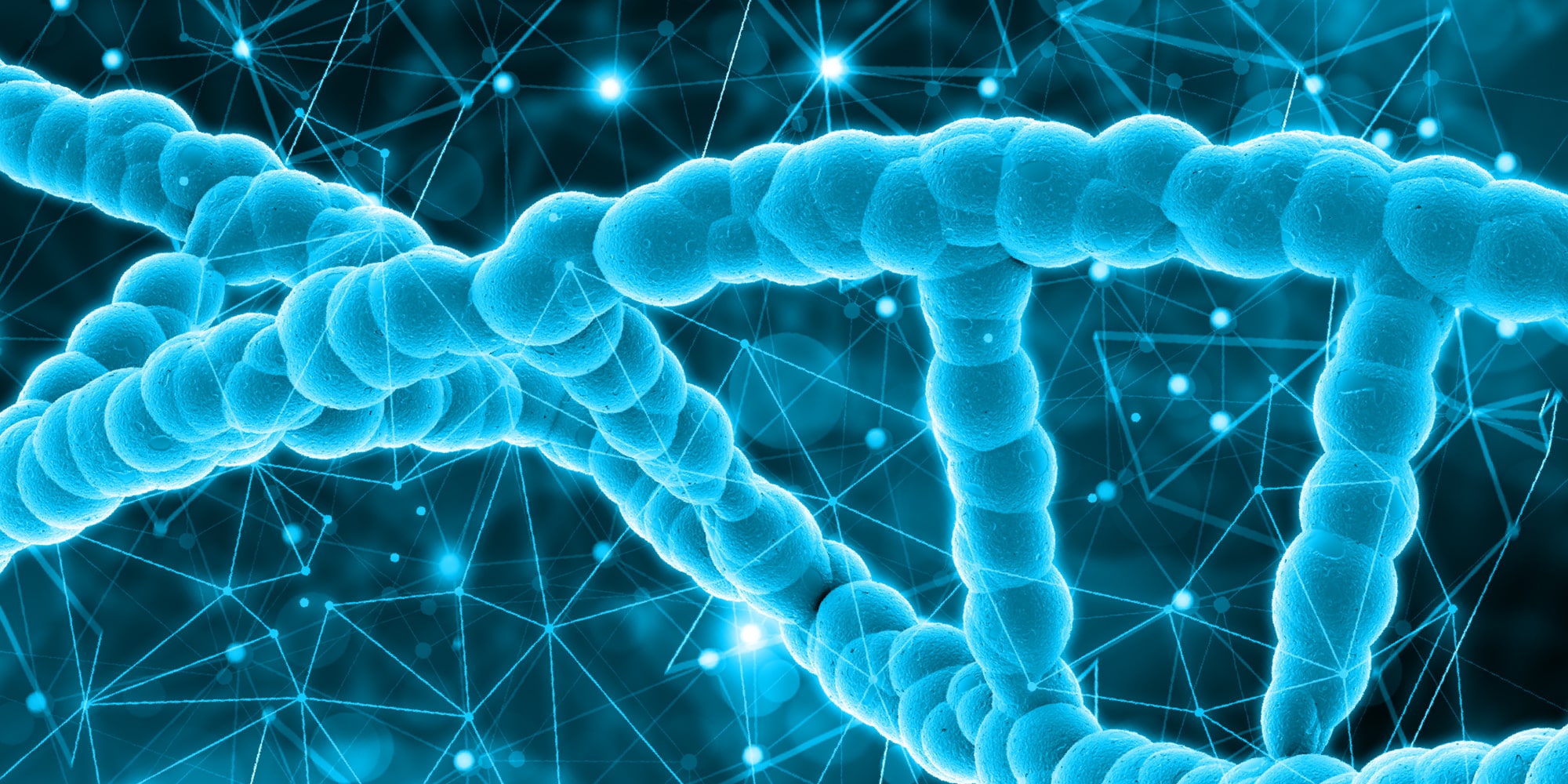No Brasil, aproximadamente uma entre quatro mulheres sofreu algum tipo de violência durante o parto (segundo pesquisa realizada pela Fundação Perseu Abramo e pelo Sesc). Para nos referirmos aos abusos (físicos e psicológicos), desrespeito e maus tratos sofridos pelas mulheres no parto, utilizamos o termo “violência obstétrica”.
Importante dizer que a violência obstétrica não se restringe apenas à prática médica, mas também se estende a falhas estruturais de hospitais, clínicas e do sistema de saúde como um todo.
Existem diversas definições complementares do termo, apresentadas por diferentes organizações. É importante, contudo, que o termo seja unificado, para que as mulheres tenham seus direitos garantidos e possam exercê-los no momento que buscam os serviços de maternidade, além de ser necessário uma definição clara, par que não haja impactos negativos na prática medicinal.
A organização The Women’s Global Network for Reproductive Rights (Rede Global de Mulheres para Direito Reprodutivos) elaborou e divulgou um panfleto em que buscou englobar os aspectos atribuídos à violência obstétrica e a definiu como:
“…intersecção entre: violência institucional e violência contra a mulher durante a gravidez, parto e pós-parto. Ocorre nos serviços de saúde públicos e privados. Para muitas mulheres [como conseqüência da violência obstétrica] a gravidez é um período associado a sofrimento, humilhações, problemas de saúde e até a morte. A violência obstétrica pode se manifestar através de: Negação de tratamento durante o parto, humilhações verbais, desconsideração das necessidades e dores da mulher, práticas invasivas, violência física, uso desnecessário de medicamentos, intervenções médicas forçadas e coagidas, detenção em instalações por falta de pagamento, desumanização ou tratamento rude. Também pode se manifestar através de discriminação baseada em raça, origem étnica ou econômica, idade, status de HIV, não-conformidade de gênero, entre outros.”
O mais comum é a transformação de processos naturais em patológicos. Isso é, tratam a mulher com intervenções médicas desnecessárias, que muitas vezes trazem malefícios tanto para a mãe, quanto para o bebê. Logo em seguida, vem o caso contrário, qual seja, a negligência, a recusa de prover à mãe e ao bebe o atendimento necessário para que sua saúde seja preservada e garantida.
É possível afirmar, portanto, que a violência obstétrica seria um tipo de violência de gênero. Além do óbvio (apenas afeta mulheres), as atitudes constatadas podem estar relacionadas a comportamentos esperados ou não das mulheres. Por diversas vezes, profissionais da saúde se sentem na posição de ensinar uma lição à paciente que está ali apenas para uma consulta ou para parir o seu filho (e não para receber opiniões alheias sobre sua vida).
Nesse sentido, não há como escapar de se mencionar aqui que, por mais que todas as mulheres estejam sujeitas a sofrer com a violência obstétrica, esta com certeza atinge em maior número as mulheres negras, pobres e periféricas – que aparecem no topo das estatísticas, evidenciando o racismo estrutural enraizado em nossa sociedade.
A violência obstétrica deve ser tratada, portanto, como violência de gênero. Conforme a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher (Convenção de Belém do Pará), a violência contra a mulher é
“Qualquer ato ou conduta baseado no gênero, que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto na esfera pública como na esfera privada” (artigo 1º, caput).
Apesar de extensamente discutido, não há definição do legal do conceito em âmbito nacional. Existe, entretanto, um Projeto de Lei (n. 7.633/14), do então Deputado Jean Wyllys, em trâmite na Câmara, que “dispõe sobre a humanização da assistência à mulher e ao neonato durante o ciclo gravídico-puerperal e dá outras providências”.
No artigo 13, violência obstétrica é conceituada como “apropriação do corpo e dos processos reprodutivos das mulheres pelos (as) profissionais de saúde, através do tratamento desumanizado, abuso da medicalização e patologização dos processos naturais, que cause a perda da autonomia e capacidade das mulheres de decidir livremente sobre seus corpos e sua sexualidade, impactando negativamente na qualidade de vida das mulheres.”
E complementa: “Para efeitos da presente Lei, considera-se violência obstétrica todo ato praticado pelo (a) profissional da equipe de saúde que ofenda, de forma verbal ou física, as mulheres gestantes em trabalho de parto, em situação de abortamento e no pós-parto/puerpério.”
Isto é, a violência obstétrica é caracterizada por qualquer forma de intervenção institucional indevida, não informada ou abusiva, que incida sobre o corpo ou sobre o processo reprodutivo da mulher, violando sua autonomia, privacidade, informação, liberdade de escolha ou participação nas decisões tomadas.
Em sentido contrário e totalmente retrógrado, em maio de 2019 o Ministério da Saúde divulgou um despacho em que se posicionava dizendo que o termo “violência obstétrica” seria inadequado e que estratégicas estariam sendo postas em prática para que o termo fosse abolido. O Conselho Federal de Medicina divulgou um parecer em que também critica o uso do termo, justificando que este ataca diretamente os médicos obstetras e ginecologistas e, além disso, o termo tem caráter político-ideológico, devendo ser, de fato, abolido.
Este neoconservadorismo atravessa o debate sobre a violência obstétrica no país e, por certo, as respostas vieram de imediato. A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), a Associação Nacional dos Defensores Públicos Federais (Anadef) e o Ministério Público Federal (MPF) se manifestaram contra o despacho do Ministério da Saúde. Enquanto a OAB caracterizou a fala como censura e afirmou que o MS feriu os direitos fundamentais das mulheres, a Anadef mencionou que a abolição do uso do termo seria um grande retrocesso no que diz respeito ao direito das mulheres.
Já o MPF se manifestou pela Recomendação n. 29/2019, afirmando que ao negar o termo e pregar por sua abolição, o Ministério da Saúde desconsidera orientações da OMS (Organização Mundial da Saúde) sobre o tema, que no documento “Prevenção e eliminação de abusos, desrespeito e maus-tratos durante o parto em instituições de saúde”, diz: “no mundo inteiro, muitas mulheres sofrem abusos, desrespeito e maus-tratos durante o parto nas instituições de saúde. Tal tratamento não apenas viola os direitos das mulheres ao cuidado respeitoso, mas também ameaça o direito à vida, à saúde, à integridade física e à não-discriminação. Esta declaração convoca maior ação, diálogo, pesquisa e mobilização sobre este importante tema de saúde pública e direitos humanos”.
De fato, pregar pela abolição do termo é negar a existência da violência obstétrica, vivenciada por tantas mulheres no mundo todo. É possível dizer até mesmo que a violência obstétrica carrega inúmeras crenças culturais, considerando o papel submisso e serviçal que a mulher sempre ocupou ao longo da história.
Nesse sentido, falamos do protagonismo da mulher no momento do parto, que precisa ser resgatado. Ela deve ser devidamente informada, para que exerça seu direito de escolha entre a cesariana e o parto normal, nos limites das possibilidades.
É preciso que as mulheres saibam reconhecer quando estão sendo vítimas de violência obstétrica. Apesar de não existir uma lista limitadora dos procedimentos ou situações condenadas ou proibidas, algumas organizações procuram divulgar situações mais corriqueiras, para que seja mais simples que mulheres identifiquem se passaram por uma experiência de violência obstétrica ou não.
Conforme pesquisa da Fundação Perceu Abramo, as situações mais comuns são procedimentos dolorosos sem consentimento ou informação, falta de analgesia, gritos e negligência.
Além disso, existem tipos mais sutis de violência obstétrica, tais como: tratar a mulher em trabalho de parto de maneira agressiva ou de qualquer maneira que a faça se sentir mal, impedir que a mulher seja acompanhada por alguém de sua preferência, tratar a mulher de forma inferior, dando-lhe comandos ou nomes infantilizados/diminutivos, submeter a mulher a procedimentos humilhantes, como raspagem dos pelos pubianos, lavagem intestinal ou posição ginecológica com portas abertas, submeter a mulher a mais de um exame de toque (especialmente por mais de um profissional diferente), fornecer hormônios, para que o parto seja mais rápido ou então fazer episiotomia sem o consentimento.
Para evitar situações desse tipo, é preciso que haja sempre comunicação entre a mulher e a equipe médica, durante o pré-natal e o parto. Assim, a gestante pode se assegurar de que a equipe que vai estar com ela no momento do nascimento de seu filho é de confiança e evita que ela passe por uma experiência traumática desnecessária.
Já no meio jurídico, é interessante que as mulheres carreguem consigo quando forem parir uma carta de intenções, de maneira a deixar claro quais procedimentos aceitam e quais não aceitam durante o parto. O ideal, ainda, é que a equipe médica que vai acompanhar a mulher assine a carta e, antes de deixar a maternidade, que a mulher peça o seu prontuário médico e o do bebê. Este é um direito que muitas mulheres desconhecem.
Além disso, para aquelas que, infelizmente, vivenciaram algum tipo de violência obstétrica, é importante que denunciem a prática, para que estes atos não se repitam.
Um canal que pode ser utilizado para isso é a Sala de Atendimento ao Cidadão, no site do Ministério Público Federal. Também existe a Defensoria Pública de cada estado, ou ainda, a denúncia telefônica pelos “disque-saúde” (136) ou no “violência contra a mulher” (180). Para a denúncia, é importante portar o prontuário médico e quaisquer outros documentos de acompanhamento da gestação.